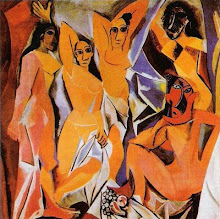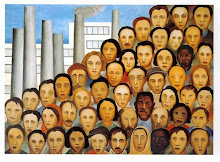1. Considerações Iniciais
A canção A Cidade, interpretada pelo grupo Chico Science & Nação Zumbi, num de seus principais refrãos, assinala que “a cidade não pára, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce” [2]. Tais palavras servem para ilustrar quão dinâmico tem sido o desenvolvimento das cidades. Este dinamismo transforma a paisagem urbana, muitas vezes fazendo com que alguns bens desapareçam em detrimento daquilo que se tem chamado de progresso.
Neste cenário de transformações permanentes, grande parte do patrimônio cultural se perde no decorrer do tempo.
A partir do conflito de interesses públicos e privados, desenvolvimento e preservação do patrimônio cultural parecem idéias antagônicas, o que enseja a intervenção do Poder Público, seja por intermédio de leis, seja pela atuação do Poder Judiciário, ao analisar e julgar os casos conflitantes, na promoção do que, pelo menos em tese, representaria o interesse da coletividade.
Se de um lado, o princípio da dignidade da pessoa humana, tomada tanto sob o prisma individual como coletivo, se consubstancia pelo desenvolvimento econômico, inegável que este mesmo princípio serve de fundamento para a proteção do patrimônio histórico e cultural, considerando que sua efetividade diz respeito à construção da cidadania.
Da mesma forma o princípio da dignidade da pessoa humana, primado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, logo em seu artigo 1º, inciso III, se coaduna com o desenvolvimento econômico (estatuído pelo artigo 2º, inciso II, e pelo artigo 170), este mesmo princípio se agrega à proteção do chamado meio ambiente cultural (tutelado pelos artigos 215 e 216, em conexão ao art. 225).
E, considerando a existência de bens históricos, artísticos e culturais em áreas urbanas e nas ditas urbanizáveis, imprescindível a análise de sua tutela à luz da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, também denominada de Estatuto da Cidade.
Entretanto, não se trata de conflito de fácil resolução, mesmo porque, uma das características mais marcantes dos chamados direitos de terceira geração (ou dimensão, como alguns autores preferem consignar), especialmente os direitos ambiental e urbanístico, se refere ao confronto entre a prevalência dos direitos individuais e coletivos (ou difusos) [3].
2. Estatuto da Cidade: contribuições, diretrizes e instrumentos da política urbana
Após cerca de onze anos tramitando no Congresso Nacional e no Senado Federal, a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, entrou em vigor, se autodenominando Estatuto da Cidade, conforme o previsto no parágrafo único do artigo 1º da própria lei federal.
A referida lei entrou em vigor no diapasão do que estabelecem os artigos 182 e 183 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao regulamentar os citados dispositivos.
Da mesma forma, a Lei nº 10.257/2001, contribui para o processo de transformação dos paradigmas adotados pela Administração Pública, modernizando-a, em perfeita consonância com o Estado Democrático de Direito. Neste ponto, cabe ressaltar que a referida lei apresenta suas diretrizes já em seu artigo 2º, valendo destacar as seguintes:
a) garantia do direito dos cidadãos às cidades sustentáveis, considerando o direito à moradia, ao saneamento ambiental, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho, ao lazer;
b) gestão democrática das cidades, por meio da participação popular na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;
c) cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização;
d) planejamento no desenvolvimento das cidades;
e) oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população;
f) ordenação e controle do solo, com vistas a evitar a utilização inadequada do uso do solo, não-utilização ou subutilização do solo urbano, retenção especulativa de imóvel urbano e impactos urbanísticos e ambientais;
g) integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais;
h) adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites de sustentabilidade ambiental, social e econômica dos municípios;
i) distribuição justa dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização;
j) recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado valorização de imóveis urbanos;
k) proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;
l) audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído;
m) regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda;
n) simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias;
o) isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendendo o interesse social.
Conforme se pode verificar, pela leitura das diretrizes adotadas pela Lei nº 10.257/2001, estas devem ser obrigatoriamente adotadas pelos municípios, em seus planos diretores.
Além das diretrizes, a lei federal adotou, em seu artigo 4º, seis importantes instrumentos que viabilizam a atuação do Poder Público no desenvolvimento sustentável das cidades.
Os primeiros instrumentos referem-se aos planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social (inciso I); planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões (inciso II) e planejamento municipal (inciso III).
No mesmo dispositivo, a lei estabelece instrumentos tributários e financeiros (inciso IV), bem como instrumentos jurídicos e políticos (inciso V).
Por fim, estabelece a lei como ultimo instrumento de política urbana o estudo prévio impacto ambiental (EIA) e o estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV).
Dentre os instrumentos acima elencados, interessa para este trabalho o tombamento der imóveis ou mobiliários urbanos, cabendo ressaltar que o mesmo será objeto de análise mais adiante.
Todavia, não se poderia deixar de mencionar a previsão do plano diretor para as cidades com mais de vinte mil habitantes, como instrumento de desenvolvimento e de expansão urbana, conforme previsto na Carta de 1988 e recepcionado pela Lei nº 10.257/2001.
3. O Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural: sua contribuição no desenvolvimento sustentável das cidades, na construção da dignidade da pessoa humana e da cidadania, e sua tutela jurídica.
Antes de se estudar a tutela jurídica do patrimônio histórico, artístico e cultural importante se faz uma análise sobre seu papel no desenvolvimento das cidades.
Conforme já aduzido, a proteção patrimônio histórico, artístico e cultural se funda na efetivação da dignidade da pessoa humana, tanto sob a ótica dos direitos da personalidade como sob o aspecto econômico, mediante atividades turísticas, cujos frutos revertam para a própria comunidade local.
A exploração das mais diversas atividades ligadas ao turismo representa, de forma eficaz, um meio eficaz de contribuição da diminuição da pobreza e marginalidade da população de baixa renda, a qual, uma vez qualificada para exercer as funções que o setor necessita (guias de turismo, garçons, vendedores, etc.), terá a oportunidade de viver a cidadania, de maneira mais ampla.
Ademais, a par do que leciona o professor Hely Lopes Meirelles, no que pertine à "defesa da estética da cidade e suas adjacências, como elemento de recreação espiritual e fator de educação artística da população" [4], a proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural, enquanto uma das formas qualificantes do meio ambiente, representa a manifestação da afirmação da dignidade da pessoa humana, a partir da construção do sentimento de pertencimento.
Ao indagar-se "quem sou eu?", "qual a minha história?" e "qual a história do povo ou grupo social a que pertenço?", na verdade se está questionando a relevância da coleção de bens tidos como históricos e culturais, materiais e imateriais, e sua contribuição para a construção do que se pode chamar de identidade cultural e da cidadania.
É sob esse aspecto que Ernest Cassirer anuncia que "a história é a essência do homem", na medida em que "o homem é um animal histórico, que se constrói na história que, por sua vez, não existe sem memória" [5]. Trata-se, pois, de um diagnóstico que define o ser humano em relação às outras espécies de animais, atribuindo-lhe a capacidade de se situar no tempo e no espaço.
A proteção do patrimônio histórico e cultural também representa o reconhecimento do direito à dignidade da pessoa humana tanto do ponto de vista individual como coletivo.
A partir da entrada em vigor do Decreto-Lei nº 25/1937 e da Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961, outras leis e decretos foram publicadas, com o objetivo de proteger o meio ambiente cultural. Dentre estas últimas, vale mencionar a Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, que dispõe sobre a cultura através de organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIPs); o Decreto nº 551, de 04 de agosto de 2000, que instituiu registro de bens culturais de natureza imaterial que constituem o patrimônio cultural brasileiro e cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial; e a Lei nº 9.065, de 12 de fevereiro de 1998 que trata dos crimes ambientais.
Em nível constitucional o patrimônio histórico, artístico e cultural encontra-se tutelado, de maneira imediata, pelos artigos 23, III e IV; 24, VII e VIII; 215 e 216; como, de forma mediata, pelo artigo 225 (de acordo com a interpretação sistemática do ordenamento constitucional pátrio).
O artigo 216 do atual Pacto Social prevê como formas de proteção dos bens culturais o inventário, o registro, a vigilância, o tombamento e a desapropriação. Entretanto, cabe grifar que o referido dispositivo constitucional não é auto-aplicável, necessitando, portanto, de lei que o regulamente.
Dentre os instrumentos de proteção de bens culturais, aqui considerados os bens materiais e imateriais, o que mais tem sido aplicado é o tombamento, o que, na prática, significa o ato final de um procedimento administrativo, resultante do poder discricionário da Administração, por via do qual o Poder Público institui uma servidão administrativa, traduzida na incidência de regime especial de proteção sobre determinado bem, em razão de suas características especiais, integrando-se em sua gestão com a finalidade de atender ao interesse coletivo de preservação cultural [6].
Considerando tal assertiva, dois pontos importantes hão de ser destacados: o primeiro concernente à natureza do ato do Poder Público de tombamento e o segundo referente à própria natureza jurídica deste ato.
Com relação ao ato do Poder Público, à luz do que reconhece a Constituição Federal de 1988 e das leis vigentes, inegável que o ato discricionário, nos dizeres de Hely Lopes Meirelles, é sempre relativo e parcial [7], pois, por mais liberdade que o agente público possa gozar, seus atos devem atender aos princípios da competência, forma e finalidade.
Em segundo lugar, como assinala a professora Elida Séguin [8], a natureza jurídica do tombamento não é matéria pacífica entre os doutrinadores. Há quem atribua ao tombamento o caráter de limitação e ingerência administrativa. Outros preferem conceituar o tombamento como autêntica servidão administrativa ou como intervenção do Estado na propriedade privada, a passo que ainda há quem se refira ao instituto como regime jurídico de tutela pública.
Além do instrumento do tombamento, o patrimônio cultural (aqui entendido o material e imaterial, assim como o histórico, o artístico e cultural, propriamente dito) pode ser protegido mediante a intervenção do Ministério Público, de instituição privada (cujo um de seus objetivos seja a proteção desse bem) ou de qualquer cidadão, frente ao ato administrativo que viole dispositivo legal ou princípio pertinente às atividades do Poder Público.
A questão ganha força, na medida em que são justamente sobre os bens não tombados, mas tidos como culturalmente relevantes, que se verificam os impactos negativos, diretos ou indiretos, provenientes de atos do Poder Público ou de empreendimento ou atividade de particular.
Nesse ponto, a ação civil pública (instituída pela Lei nº 7.347/1985, posteriormente modificada pela Lei nº 8.078/1990) e ação popular (4.717/1965), bem como as sanções impostas pela Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente), apresentam-se como importantes instrumentos postos à disposição da sociedade na luta pela efetividade da tutela jurídica do patrimônio histórico, artístico, cultural, paisagístico, arqueológicos e pré-histórico.
4. Considerações Finais.
A proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural representa a garantia da efetividade da dignidade da pessoa humana, uma vez que, é a partir disso, que membros de uma determinada comunidade constroem seus laços, em decorrência do sentimento de pertencimento e de história comum.
Ademais, a proteção e a promoção dos bens históricos, artísticos e culturais, aqui tomados os materiais e imateriais, significa o reconhecimento ao direito à cidadania, representada em seu elemento sócio-econômico. As oportunidades de trabalho geradas pela proteção e promoção de tais bens em muito podem contribuir para a redução da pobreza e da marginalidade das populações direta ou indiretamente ligadas àqueles.
Neste contexto, a atuação do Poder Público e a participação da iniciativa privada tornam-se imprescindíveis. Daí, a previsão da solidariedade no artigo 225, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da realização de audiências públicas, imposta tanto pelo texto da Carta Maior como pela Lei nº 10.257/2001.
Da mesma forma, a disposição de mecanismos processuais à disposição do Ministério Público, de organizações privadas (associações, ONGs, etc.) e de todo e qualquer cidadão também representam a garantia de proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural, bem como instrumentos eficazes face aos abusos cometidos pela Administração Pública e/ou por particular.
Ao contrário do que se possa entender, a proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural não representa um entrave ao progresso, mas, apenas serve para estabelecer um novo paradigma de desenvolvimento com fundamento na sua própria sustentabilidade.
Notas:
(1) Artigo adaptado do original publicado na Revista Justiça e Cidadania. Rio de Janeiro, maio de 2007.
(2) canção do disco Da Lama ao Caos.
(3) Cf. Robert Lee Segal. Direitos Humanos Fundamentais: os direitos e suas gerações. In Direitos Humanos, Cidadania e Segurança Pública: conexões do século XXI. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2006, p. 42.
(4) Cf. Hely Lopes Meirelles. O Direito de Construir. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 1965, p. 119.
(5) Cf. Ernest Cassirer. Antropologia Filosófica: ensaio sobre o homem. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 88.
(6) Cf. Maria Coeli Simões Pires. Da Proteção ao Patrimônio Cultural. Belo Horizonte: Del Rey, 1994, p. 278.
(7) Cf. Hely Lopes Meirelles. Op. Cit., p. 103.
(8) Cf. Elida Séguin. Estatuto da Cidade. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 116-117.