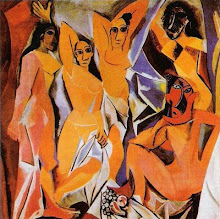Numa
noite de julho, sentado a uma das mesas, num canto da sala, na UNIRIO, durante
uma aula da disciplina “Introdução à Filosofia”, Baptiste Noel Grasset, o professor,
nos propõe falarmos sobre a dúvida, a partir do legado teórico de René Descartes.
Poderia
falar de minhas dúvidas sobre a política ou, precisamente, acerca dos
políticos, os quais, sinceramente, não sei se ainda tenho dúvidas ou se
realmente já os conheço, considerando suas atitudes sínicas. Me defino como
republicano e democrata, mas, às vezes, chego até a duvidar tanto da res publica – se realmente é pública –,
como da democracia.
Estaria,
no entanto, diante de uma experiência sensível.
Poderia
discorrer sobre a existência de Deus, como fez o próprio Descartes, e, quiçá,
ter uma percepção igual ou diversa dele, de Spinoza, de Nietzsche e de tantos
outros. Deus existe? Como? Onde?
Talvez,
para conhecê-lo, deveria recitar mantras ou consumir alguma substância como a cannabis, tomar um LSD, ao som de The
Doors, com Jim Morrison dizendo “break on
through to the other side!”, ou ainda, numa versão light, beber um chá de cogumelo e ouvir um “progressivo”, como
Renaissance, na voz angelical de Annie Haslem cantando “ashes are burning”, ou Jethro Tull. Um sonho...
Que
mal haveria? Afinal, foi num sonho, no qual estaria em frente uma lareira e com
um papel na mão (papel?! ou seda?), que Descartes colocou tudo em dúvida. Ele mesmo,
Deus...
Mas,
vai que Deus realmente existe e, mediante uma dose a mais, eu não volte?!
Prefiro, por ora, desconhecê-lo e manter minha mente e meu corpo juntos!
Poderia
escrever sobre minhas dúvidas em relação ao tanto que estudamos e frequentamos
as universidades. E para que tanto estudo? Já me graduei em Direito, já fiz
mestrado em Educação, atualmente estou, inclusive, em pleno doutoramento nesta
área, e, agora, ingressei numa licenciatura em Filosofia. Se vim atrás de
respostas, parece que deparei-me com um “gênio maligno”, pois, as dúvidas nunca
foram tão persistentes. Aliás, seria o tal gênio maligno o próprio professor Baptiste?
Pois,
naquela noite de julho, como se não bastassem as provocações deste professor
sobre a existência das coisas, inclusive do homem, e de Deus, segundo
Descartes, este mesmo professor (em conluio com a professora Andrea Bieri, para
quem vou à aula sempre com meu cachimbo) usa como exemplo a cor azul de uma
cadeira próxima a ele.
Ia
tudo tão bem...
“Aquela
cadeira azul”, disse.
Verdade?
Que nada! Eu duvido!
A
tal cadeira pode ser azul para ele, mas não para mim, pois, sou dotado de discromatopsia,
ou aquilo que popularmente chamam de daltonismo.
Em
síntese, o daltonismo pode ser definido como uma disfunção da visão, a qual não
tem a capacidade de diferenciar todas ou algumas cores. Isso foi descoberto no
século XVIII, por John Dalton, um químico que era portador dessa “perturbação”.
No
meu caso, como sou um “cara de sorte”, tenho um tipo mais específico, que
atinge somente cerca de 1% (um por cento) da população mundial. Não consigo
distinguir vermelho de verde, enquanto cores primárias, e azul de roxo, por
exemplo. Mas, também não consigo diferenciar derivações, tais como laranja e
ocre, verde musgo e cinza etc.
Um
dia, estava em casa, assistindo a uma partida de rugby entre Irlanda e País de Gales. Logo, deparei-me com um
problema, já que ambas as equipes trajavam seus uniformes tradicionais. O time da
Irlanda jogava com camisas e meiões verdes, ao passo que País de Gales usava
camisas e meiões vermelhos.
Não
tive alternativa senão perguntar para minha mulher, que àquela altura estava ao
meu lado, quem trajava qual cor de uniforme e, portanto, para que lado cada
equipe atacava. Fiquei imaginando se eu estivesse em campo, carregando a bola.
Para que lado iria? Para quem passaria a bola?
De
acordo com a certeza de Descartes sobre Deus, só esse me tiraria dessa
enrascada...
A
dúvida com relação às cores em minha vida não é fato novo, dada a minha
condição. Lembro-me de, quando era criança e gostava de desenhar e pintar,
tinha uma caixa de lápis de cor da marca Caran D’Ache, com os lápis numerados e
um pantone na tampa da caixa, o que me permitia saber qual cor estava
utilizando.
Ganhei
aquela caixa de lápis de cor, assim como outras da Faber Castel, mas, todas com
números nos lápis e nas caixas.
Por
exemplo, na caixa Caran D'Ache, o roxo é numerado de 102, ao passo que o azul escuro recebe o número 159. Enquanto isso, na caixa Faber Castel, o número 53 refere-se ao azul escuro, enquanto o número 55 é destinado ao roxo.
Meu
daltonismo foi diagnosticado quando eu devia ter uns oito ou nove anos de
idade. Em datas cívicas, por exemplo, eu pintava em roxo o céu das estrelas, na
bandeira brasileira, quando haveria de pintar de azul.
Diante
de tanta insistência, em trocar o azul pelo roxo, foi recomendado à minha mãe
que fizesse um teste, com o intuito de aferir se eu realmente era daltônico.
Diagnóstico: positivo. A partir dali, minha vida já teria a marca da dúvida.
Imagina,
séculos atrás, eu pintando a bandeira brasileira e inserindo o roxo no lugar do
azul. Os positivistas com seu racionalismo fundado na “ordem e progresso”
teriam uma sincope, já que o roxo significa, entre outras características, o
misticismo.
E
na bandeira francesa? Inserindo o roxo, associado à nobreza e ao místico, ao
invés do azul, ligado à liberdade. Os jacobinos teriam, provavelmente, cortado
a minha cabeça na guilhotina, como um contrarrevolucionário.
E pintar a bandeira norte-americana, trocando o azul pelo roxo? “Um espião inglês! Fuzilem-no!”
E pintar a bandeira norte-americana, trocando o azul pelo roxo? “Um espião inglês! Fuzilem-no!”
Pois,
tá aí uma outra coisa engraçada. Nasci numa época em que o mundo estava
geopoliticamente dividido entre capitalistas e comunistas. “Nós”, do lado de
cá, estávamos sobre a influência dos capitalistas norte-americanos, enquanto
“eles”, do lado de lá, estavam sob o jugo comunista soviético. Capitalistas x
comunistas, liberais x conservadores, “direita” x “esquerda” etc.
Pois,
de lá pra cá, muita coisa mudou. No campo político, ficou realmente difícil saber
quem defende qual bandeira. Governos ditos de “esquerda” ou “liberais” cometem
os mesmos equívocos, ou até mais graves, do que aqueles de “direita” ou
“conservadores”, uma vez que estes últimos tenham sido aparentemente
suplantados. Os “vermelhos”, uma vez no lado de cá, praticamente se comportam
como os “azuis”. Políticos antes ditos revolucionários defendem, hoje, que a
polícia baixe o cacete nos manifestantes ou, quando não, vemos pessoas outrora
ligadas a grupos “subversivos” que combateram a ditadura militar com emprego de
armamentos, atualmente, no poder, defenderem manifestações pacíficas, mesmo diante
de todo infortúnio (corrupção, descaso com os direitos sociais etc.) que assola
este país.
Há
também aqueles que defendiam o monopólio estatal nos serviços públicos e, tendo
se tornado gestores públicos (presidente, governadores e prefeitos), optaram
por privatizá-los.
Ao
que parece vivemos aquilo que alguns chamam de pós-modernidade, cujas
características consistem na ambivalência e na ambiguidade, entre outras. Uma
era de confusões de cores e, portanto, de dúvidas.
Assim,
sigo duvidando de tudo que para mim não pareça claro e distinto: das cores, se
são aquelas que realmente as enxergo; dos políticos, pela própria confusão em
seus atos; de nossas e de minhas próprias posições em relação ao mundo etc.
“Só
sei que nada sei”, poderia dizer, em eco a Sócrates, numa reafirmação às minhas
dúvidas. Aliás, sabendo que ele foi induzido à morte por ingestão de veneno,
fico também na dúvida se alguém teria dado ou desejado dar umas porradas nele
com aquela história de maiêutica (a partir do questionamento sobre um
conhecimento prévio, a proposta insistente de uma nova ideia). “Conhece-te a ti
mesmo”, teria dito o pensador grego.
Pois
bem. Estava eu em casa, quando o interfone tocou. Era o pesquisador do IBGE,
com perguntas para o Censo (pesquisa nacional por amostra domiciliar), a fim de
saber quantas televisões, rádios, computadores, geladeiras, micro-ondas e
banheiros eu tinha em casa. Pelo que soube, tratava-se de uma pesquisa nacional
com o objetivo de diagnosticar o nível socioeconômico do brasileiro,
considerando a cor de sua pele.
Não
foi por outro motivo pelo qual, num determinado momento, ele me perguntou:
“Qual é a sua cor?”
Diante
dessa pergunta, disse-lhe, num tom sincero: “Não sei. Por favor, me defina”.
E
ele respondeu: “Não posso fazer isso”.
“Mas,
por quê?”, insisti.
Foi
quando ele explicou-me: “Nós trabalhamos com a cor da pele a partir da
autodefinição do entrevistado”.
Bom,
quando nasci, fui registrado como de cor “branca”, considerando a cor da pele
de meu pai e de minha mãe, num contexto, vale dizer, em que as oportunidades
educacionais e profissionais estavam associadas à cor da pele. Quanto mais
“branco”, mas chances de sucesso teríamos.
Pensei
na minha cor de pele, segundo minha certidão de nascimento, na cor da pele de meus
pais, na cor da pele do rapaz do IBGE que me entrevistava, e na relatividade
que tal conceito suscita.
“Eu
sou quem acho que sou? Essa tal cor é realmente a minha?”, indaguei em
silêncio.
Considerando
o meu daltonismo e a confusão das cores que ele provoca, a experiência sensível não tem se dado muito
a meu favor. Assim, colocando em dúvida, mais uma vez, a realidade que se
apresentava para mim, misturei as cores do pantone do IBGE dentro de mim, como
num pote, e respondi-lhe: “Mestiço” (o que o IBGE classifica como “pardo”).
Naquele
instante, defini-me pela mente, deixando meu corpo numa posição secundária,
como faria Descartes, na busca pelo conhecimento. Separei minhas “substâncias”
– mente e corpo. E, pela independência da mente, cogito ergo sum. E, assim, isso se deu graças ao fato de seu ser
uma coisa pensante e a meu daltonismo.
Mas,
com relação ao resto, sigo duvidando...