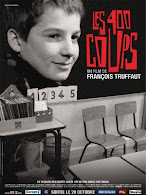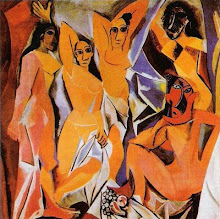És um senhor tão bonito
Quanto a cara do meu filho
Tempo tempo tempo tempo
Vou te fazer um pedido
Tempo tempo tempo tempo...
Compositor de destinos
Tambor de todos os rítmos
Tempo tempo tempo tempo
Entro num acordo contigo
Tempo tempo tempo tempo... (Trecho da canção "Oração ao Tempo", de Caetano Veloso)
O presente trabalho decorre das exposições por parte do docente responsável pela disciplina Seminário de Leitura em Metafísica, prof. Écio Pisetta, no curso de filosofia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), no segundo semestre do ano de 2013.
O foco de leitura se deu sobre a obra O conceito de tempo, de Martin Heidegger, a partir de uma conferência sua, pronunciada em julho de 1924, para a Sociedade de Teólogos de Marburgo, Alemanha.
Interessa consignar que minha atenção neste curso veio, em alguma medida, se deu ao encontro de minha experiência com relação às minhas filhas – Alice e Sofia, nascidas no último dia 06 de dezembro do corrente ano.
Devido à vulnerabilidade de meus gametas (espermatozoides), minha mulher e eu submetemo-nos a um procedimento conhecido como reprodução assistida, mediante fertilização in vitro. E, uma vez gerados os embriões, os mesmos foram guardados numa clínica especializada, por intermédio de uma técnica de criopreservação ou crioconservação, ou seja, a preservação de células, tecidos e embriões em temperatura em torno de – 196º C, geralmente, com o uso de nitrogênio líquido.
Tal procedimento se deu no início do ano de 2012, o que, considerando que entre a fertilização de gameta reprodutivo feminino – óvulo – e o nascimento de um ser humano com vida normalmente se dá em nove meses, ou entre 37 e 42 semanas, colocou-me frente a algumas questões, entre as quais eu destaco a seguinte: o tempo de minhas filhas não é o meu tempo.
Isso porque: 1. O tempo de gestação (extra e intrauterina) de minhas filhas ultrapassou o tempo convencional, posto que durou um total de 19 meses, até o nascimento de ambas. 2. Optamos por introduzir os embriões que dariam origem às nossas filhas em abril de 2013, mas, poderíamos fazê-lo no ano seguinte, mais a frente ou até daqui a uma década. Até aquele momento, não havia (e talvez ainda não haja) algo que nos obrigue a proceder a inserção imediata de embriões fertilizados no útero de minha mulher, ou de qualquer outra. Nesse caso, ouso dizer que o “tempo nos pertence”. Se é que ele realmente nos pertence? 3. Quando do nascimento de minhas filhas – gêmeas bivitelineas – Sofia nasceu às 20:53, ao passo que Alice nasceu às 20:54. Gêmeas, mas separadas por um intervalo de 1 minuto. Nisso, posso dizer que o tempo de Sofia não é o tempo de Alice.
Pois, são exatamente considerações como essas que se coadunam, pelo menos para mim, aos debates travados em sala de aula, no concernente à obra O conceito de tempo, de Heidegger (1997).
Costumo dividir meus trabalhos em intervalos sistemáticos, em partes, ou tempo, tais como introdução, desenvolvimento e conclusão. No entanto, burlando tal disposição, que aliás, tem uma razão de ser, pretendo discorrer sobre o tempo, em Heidegger, em forma ensaística, aplicado a minha particular experiência, qual seja: preservação de meus gametas e o nascimento de minhas filhas.
O que realmente interessa aqui é trazer à baila algumas considerações sobre o conceito de tempo no encontro ocorrido no dia 14 de novembro de 2013, no Seminário de Leitura, dirigido pelo prof. Écio Pisetta, nas dependências da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).
A primeira delas se refere à nossa imaginação do tempo como algo dado e exterior, que nos circunda.
Pensado a partir da crença, enquanto algo dado, o tempo relaciona-se à eternidade, mas que a ela não pode medir.
"13. Quem afirma tais coisas, ó 'Sabedoria de Deus', Luz das inteligências, ainda não compreendeu como se realiza o que se faz por Vós e em Vós. Esforça-se por saborear as coisas eternas, mas o seu pensamento ainda volita ao redor das idéias da sucessão dos tempos passados e futuros, e, por isso, tudo o que excogita é vão. A esse, quem o poderá prender e fixar, para que pare um momento e arrebate um pouco do esplendor da eternidade perpetuamente imutável, para que veja como a eternidade é incomparável, se a confronta com o tempo, que nunca pára? Compreenderá então que a duração do tempo não será longa, se não se compuser de muitos movimentos passageiros. Ora, estes não podem alongar-se simultaneamente. Na eternidade, ao contrário, nada passa, tudo é presente, ao passo que o tempo nunca é todo presente. Esse tal verá que o passado é impelido pelo futuro e que todo o futuro está precedido dum passado, e todo o passado e futuro são criados e dimanam d’Aquele que sempre é presente" (AGOSTINHO, 1980, p. 263).
A partir daí, pode-se pensar na possibilidade de se medir o tempo (AGOSTINHO, ibidem), tendo, no entanto, que se considerar que,
"O tempo não é apenas uma sucessão de instantes separados. É um contínuo, e, como tal, é indivisível. O tempo, para ser estudado na sua que se metafísica, não se deve dividir no “antes” e no “depois”, mas considerar-se na sua síntese de continuidade" (OLIVEIRA SANTOS; AMBROISO DE PINA, 1980, p. 268).
Com o pensamento de Agostinho (ibidem), há um deslocamento do tempo para a subjetividade, eis que passamos a ter a capacidade de medi-lo, numa dimencionalização do espírito em relação às coisas (inclusive o tempo).
"À parte da teologia, a filosofia proporciona as reflexões acerca do ser-aí (dasein) sobre si mesmo e sobre o mundo. Com isso tem-se consciência de algo, cabendo, com relação ao ser-aí, compreender que,
[...] Ser-aí enquanto ser-no-mundo significa: estar de tal modo no mundo que este ser designe lidar com o mundo, permanecer nele num modo de fazer algo, de realizar, de efetuar, mas também de contemplar, de questionar e de determinar por observação e comparação" [...] (HEIDEGGER, 1997, p. 18-19).
Trazendo à tona a experiência do nascimento de minhas filhas, Alice e Sofia, lembro-me do relógio na parede e do médico obstetra dizendo, no exato momento em que Sofia deixava o ventre de sua mãe: “Aí está a Sofia, às 20:53”.
Após, em ato contínuo, disse, em alto tom: “Aí também está a Alice, nascida às 20:54”.
Pensando nas palavras do referido médico e no relógio na parede do centro cirúrgico do hospital em que minhas filhas nasceram, poderia tomar o tempo como uma sucessão de instantes, considerando um minuto após o outro; um minuto entre o nascimento da Sofia e o nascimento da Alice.
Poderia ainda refletir acerca da coleta de meus gametas e de minha mulher, no início do ano de 2012, o momento da fertilização dos mesmos, até o nascimento de nossas filhas. Mais de 1 ano se passou; 19 meses se passaram; 576 dias se passaram. Poderia, pois, tomar cada dia como um “agora”; cada hora desses 576 dias como um “agora”; cada minuto, cada segundo...
Entretanto, com base na obra e Heidegger (ibidem), poderia pensar o acontecimento como dois “agora”: um “agora antes” e um “agora depois”, um “agora mais cedo” e “um agora mais tarde”.
Desse modo, posso entender que, ainda de acordo com as lições de Heidegger (ibidem), o tempo é aquilo que ele é, e não aquilo que um cronômetro diz o que ele (o tempo) é. Da mesma sorte, não se pode compreender o tempo como algo que nós homens criamos, mas, como algo enquanto parte de sua própria estrutura. O tempo a partir daquilo que questionamos como tal.
Interessa ainda registrar o dito comumente reproduzido por parentes e alguns amigos: “Quando você virar pai, nunca mais será o mesmo”.
De fato, sinto-me diferente. Todavia, se por um lado digo “eu sou (pai)”, isso se dá pela minha relação com as outras pessoas, afinal, não posso pensar o eu sem tu, nem o eu sem nós, por outro lado, penso-me (pai) a partir de mim mesmo.
Haveria o eu considerando um ser-aí, enquanto um ser-aí-no mundo neste “agora antes” e “agora depois”, ou numa sucessão de “agoras”?
Essas são algumas reflexões que trago comigo e compartilho com algum leitor, entre tantas outras elucubrações possíveis, agora, a partir da ideia do ser-aí-a-cada-momento (jeweiligkeit).
E meus gametas? Estão aí, no mundo, como Alice e Sofia.
Referência
AGOSTINHO, Santo. Livro XI: o homem e o tempo. In: ______. Confissões. [Trad.] J. de Oliveira Santos; A. Ambrosio de Pina. Confissões; De magistro. 2. Ed. São Paulo: Abril Cultural, 1980. Coleção Os Pensadores.
HEIDEGGER, Martin. O conceito de tempo: conferência pronunciada para Sociedade de Teólogos de Marburgo, Julho de 1924. Cadernos de tradução, n. 2, DF/USP, 1997, p. 7-39.

.jpg)