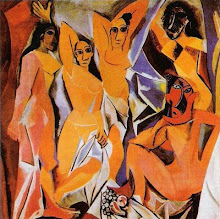Introdução
O presente artigo traz como objeto de
análise e reflexão o ensaio intitulado A
morte do autor, escrito por Roland Barthes e, originalmente, publicado em
sua obra O rumor da língua[1],
em 1984[2].Nesta obra, especificamente em relação
ao autor, Barthes traz uma crítica à concepção moderna da figura daquele,
enquanto pessoa que escreve algo, e da crítica literária de uma época.
Para Barthes, o que está em jogo é modo pelo
qual a crítica literária tem atribuído sentido às obras escritas, a partir da
importância que dá às mesmas, uma vez que “a explicação da obra é sempre procurada do lado de quem a produziu,
como se, através da alegoria mais ou menos transparente da ficção, fosse sempre
afinal a voz de uma só e mesma pessoa, o autor,
que nos entregasse a sua ‘confidencia’”[3].Para a crítica literária moderna, ainda
de acordo com Barthes, compreender uma obra implicaria necessariamente
considerar o ato criador do autor, como um artista desgarrado da tradição antiga
e, portanto, com uma inspiração “divina” da Renascença – que, mesmo fundada na
revalorização das referências culturais da Antiguidade, colocava o homem com
centro do universo – e, posteriormente, como uma espécie de criatura singular,
enquanto típica criação da Modernidade capitalista.Até então, o autor era visto pela
crítica literária como um “gênio” que, por seu ato criador, a partir de uma
concepção individualista, com suas bases no capitalismo efervescente, seria o
legítimo detentor de sua própria obra.No entanto, para Barthes, isso se rompe,
aos poucos, posto que a mitificação da figura do Autor-Deus foi perdendo espaço para a atenção à linguagem daquilo
que está escrito. E é neste momento que se Barthes anuncia a “morte do autor”.Afinal, como assevera ele, enquanto
espaço de dimensões múltiplas, onde se “casam e se conflitam escritas variadas
[...] o “texto é um tecido de citações”[4].
Por tais razões, ainda na perspectiva de
Barthes,
"um
texto é feito de escritas múltiplas, saídas de várias culturas e que entram
umas com as outras em diálogo, em paródia, em contestação; mas há um lugar em
que essa multiplicidade se reúne, e esse lugar não é o autor, como se tem dito
até aqui, é o leitor: o leitor é o espaço exato em que se inscrevem, sem que
nenhuma se perca, todas as citações de que uma escrita é feita; a unidade de um
texto não está na sua origem, mas no seu destino, mas este destino já não pode
ser pessoal: o leitor é um homem sem história, sem biografia, sem psicologia; é
apenas esse alguém que tem reunidos num mesmo campo todos os traços que
constituem o escrito"[5].
No caso deste trabalho, assumo
pessoalmente os riscos de minhas próprias reflexões, razão pela qual trato de
discorrer sobre minhas ideias na primeira pessoa do singular, facultando ao
leitor as compreensão que lhe é conveniente.Mesmo porque, como autor, já escrevi
algumas coisas que vão desde livros até simples mensagens na rede mundial de
computadores (internet), incluindo
textos em um blog, e curtas
expressões em redes sociais, sobre as quais faço, neste momento, uma reflexão.Minha questão problema nasce a partir de
uma constatação: percebi que, mediante diversos compartilhamentos de mensagens
de texto, com o decorrer do tempo, parece haver um desligamento – para valer-me de expressão empregada por Barthes – entre
aquilo que escrevo e a minha pessoa, considerando que sou o autor daquilo que
eu próprio produzo.Eu mesmo já me deparei com mensagens por
mim escritas e que, devido à quantidade de compartilhamentos – gentilmente
efetuados por meus amigos virtuais – parecem distanciaram-se de mim, ficando
perdidas no ciberespaço[6].Além do compartilhamento, existe a
possibilidade de se copiar uma mensagem e efetuar sua colagem, como se fosse da
autoria de quem quer que seja. O que para alguns pode ser tido como plágio,
para outros, nada mais parece ser do que estar de acordo com as próprias regras
do “jogo social” na rede virtual. Quanto a isso, parece haver uma liberdade
ilimitada nas redes sociais, contradizendo outras situações, como aquela
concernente às implicações pessoais e meso legais advindas de certas
manifestações do pensamento. Mensagens de cunho preconceituoso, que envolvam
violência contra animais, abuso infantil, entre outras, comumente são
rechaçadas pela “comunidade”, quando o próprio moderador não se encarrega de
deletar a postagem e bloquear o perfil do transgressor, bem como, em casos mais
drásticos, excluí-lo da ágora virtual.
Voltando à minha experiência, em
determinados casos, é como se eu morresse enquanto autor daquilo que próprio
escrevi. Morte esta que, aliás, torna-se foco de minha preocupação neste mesmo
artigo.Advirta-se, desde já, que não pretendo
lançar um olhar sobre a morte do autor, na perspectiva de Foucault[7],
uma vez que não estou preocupado, neste exato momento, com a relação que se
estabelece entre sujeito, discurso e poder.
O que pretendo aqui é analisar a autoria,
a partir da relação que o leitor estabelece com o autor de uma obra que se
encontra à sua frente.
Autoria, morte e
(re)nascimento: a inversão do mito autoral
Ontem, postei um pequeno texto numa rede
social. Hoje, pela manhã, já tinha percebido que havia várias “curtidas”,
alguns “comentários” e mais alguns “compartilhamentos”.Confesso que fiquei contente com a
atenção de meus amigos – ainda que virtuais – para comigo e com aquilo que eu
havia escrito. Alguns curtiram, outros comentaram, enquanto outros
compartilharam meus pensamentos.Agora, à noite, vejo como o que eu
escrevi já foi tantas vezes compartilhado naquela mesma rede social – de Fulano
para Sicrano, de Sicrano para Beltrano, e assim vai – que já nem vejo mais
referência à minha pessoa como autor daquilo que eu mesmo escrevi. Observo,
inclusive, que existem comentários sobre o que originalmente escrevi em
compartilhamentos alheios, sem que meu nome sequer seja mencionado.Poderia até ficar aborrecido com a
possibilidade plágio. No entanto, por ora, preocupo-me como aquilo que Barthes
chama de a morte do autor, pelo que
fico pensando em como o que escrevi se afastou da minha pessoa.Vislumbro até a possibilidade de eu mesmo
ter morrido naquela rede social, de compartilhamento em compartilhamento.A morte nas redes sociais nem é uma
possibilidade absurda, eis que basta alguém excluí-lo do perfil de amigos e/ou
bloquear seu acesso ao perfil dele que você já era (pelo menos para quem assim
procede).Tal reflexão é plausível à medida que me
vem à mente a premissa de Barthes[8]
de que “a escrita é a destruição de toda voz, de toda a origem”.Na perspectiva de Barthes[9],
o autor seria uma invenção moderna, com suas bases no empirismo inglês, no
racionalismo francês e na fé pessoal da Reforma, dando ao indivíduo um
prestígio de “pessoa humana”, um protagonismo sem igual. E, segundo ele, isso
teria acabado.Ademais, incide a questão temporal,
posto que, como autor, tornei-me passado daquilo que eu mesmo escrevi na tal
rede social, ainda que pensamento e linguagem sejam simultâneos, conforme
propõe Merleau-Ponty[10].
E, nas redes sociais, isso fica mais evidente.
Da impressão de Gutenberg ao digitar de textos numa rede social, eis que, o
compartilhamento daquilo que escrevo – e mesmo qualquer pessoa assim o faz –
traz à tona à inversão do mito do criador, problematizada por Barthes. Isso
porque, como propõe este pensador, o “nascimento do leitor deve pagar-se com a
morte do autor”.Isso se faz possível à medida que não
escrevo para mim, mas, justamente, para ser lido, pensado e quiçá,
compartilhado entre outras pessoas.Ademais, seria soberbo de minha parte
crer que aquilo que escrevo é uma criação exclusivamente minha, posto que
reconheço que também “misturo as escritas” (para valer-me de expressão de
Barthes), enquanto ação de pela qual, em meu trabalho, “costuro” um “tecido de
citações”.Posso, inclusive, assumir-me como
aquelas mulheres rendeiras do nordeste brasileiro que, a partir de
conhecimentos adquiridos, de gerações em gerações, compõem suas artes em
tecidos coloridos, com formas e desenhos variados. O pensamento em suas mentes
e a expressão em suas mãos hábeis, como demonstram em uma renda bilro, por exemplo, passando linhas de mãos em mãos e dedos
em dedos, rapidamente, trazendo para a realidade aquilo que encontra-se no
plano das ideias.
Assim, talvez, o distanciamento da
ilusão de que seria eu um Autor-Deus
– como poderia vir a acreditar, na Renascença ou na Modernidade, segundo a
visão de Barthes – e, consequentemente, o fato de assumir que sou um mero
“costureiro” ou “alfaiate” de um texto que escrevo tragam-me um conforto e
consciência de minha própria humanidade.
Aquilo que escrevo é apropriado por um
ou diversas pessoas, como alguém que veste uma roupa feita por um alfaiate. A
“arte têxtil” cabe em seu corpo, de acordo com suas expectativas. Em alguns
casos, quem veste a tal “arte”, sob a forma de uma roupa, pode customizá-la:
excluir alguma parte ou acrescentar algo à peça, dando-lhe a sua identidade
própria.
No entanto, isso não significa que estou
obrigado – ou qualquer pessoas assim esteja – a escrever para agradar o gosto
dos outros, como quem produz uma comida, roupa ou outro bem à la moda fit.
Mas, ainda sobre a tomada daquilo que é
escrito por alguém, pode-se imaginar os perigos advindos de tal atitude, como
se viu, por exemplo, na apropriação dos escritos de Nietzsche[11]
pelos nazistas, durante a primeira metade do século passado, bem como vê-se o
problema da apropriação, inclusive indevida, daquilo que escrevemos. O super-homem nietzscheano[12]
é a prova cabal disso, utilizado para forjar uma “raça superior” e exterminar
milhões de pessoas nos campos de concentração e extermínio, pela Europa.
Em situações como essa, mesmo na
ausência de previsibilidade do autor, numa metáfora, o doutor Jerkyll acaba por
criar, ainda que involuntariamente, um monstro – Hyde – sobre quem acaba por perder
o controle. A criatura liberta-se de seu criador e, de sonho, torna-se um pesadelo[13].
E, em tempos de “politicamente correto”
a questão daquilo que escrevemos e os outros leem e, por vezes compartilham,
torna-se mais delicada. Neste sentido, o diálogo nem sempre é claro entre as
partes envolvidas.
Numa outra via, a possibilidade do
afastamento da escrita de seu autor, prenunciando sua própria “morte”, faz com
que possamos ler Heidegger sem que, necessariamente, sempre nos deixemos levar por
seu já conhecido atrelamento ao partido nazista, o que, inclusive, o teria
levado a ocupar o cargo de reitor da Universidade de Freiburg[14].
O mal-estar de saber que Heidegger foi
um nazista[15]
e que não se deteve enquanto milhões de judeus eram exterminados nos campos de
concentração é, senão dissipado, amenizado, para que, finalmente, pessoas como
eu (que tivemos parentes próximos ou longínquos exterminados) possamos ler o mencionado
“gênio”.
Como dito, para Merleau-Ponty,
pensamento e linguagem[16]
nasceriam juntos, pelo que o solipsismo
cartesiano[17]
seria uma alternativa para a preservação da vida intelectual de uma pessoa. O “penso
logo existo” (cogito ergo sum) manteria
a vida de uma pessoa, contanto que ela própria nada escreva. Uma vez que algo
se escreva, em primeira instância, estar-se-ia diante de sua “morte”, pelo imediato
desapego de seu corpo, por intermédio de uma obra intelectual expressa em
contrações musculares que estimulam a escrita, em relação à sua alma. Da mente
ao corpo, do corpo ao preto e branco.
Contudo, numa instância mais radical, a
própria alma estaria condenada a ser subjugada por quem dela se apropria.
Afinal, não é raro o questionamento acerca da impossibilidade do afastamento da
mente do autor em relação aquilo que ele escreveu.
Volta-se, pois, a questão concernente a
Heidegger, por exemplo, em saber se é possível ler seus escritos sem que, no
entanto, seja possível esquecer que o mesmo foi um nazista. O mesmo pode-se
dizer em relação a Rousseau, autor de Emílio
ou da educação[18]
– um marco literário no campo da educação –, entre outros escritos, e que, sabidamente,
abandonou todos os seus filhos.
Que fique claro que não se trata aqui de
uma discussão sobre ética, mas de um debate meramente no campo da linguagem,
tomando a antropologia filosófica como meio de análise da questão proposta.
Trata-se de um ponto nodal para se
compreender o distanciamento entre o autor e quem se depara com o que ele
escreveu. Neste sentido, tomando a morte do autor em Barthes, pode-se perceber
como Nietzsche, Heidegger, Rousseau e tantos outros “morreram” em seus escritos
– antes mesmo de tornarem-se cadáveres – diante da apropriação de suas obras
por um número quase infinito de leitores. E morreram esquartejados, cujos
pedaços foram consumidos segundo a conveniência de cada leitor ou massa de
leitores.
Há ainda quem rumine um pouco de
Nietzsche, saboreando-se com seus aforismos sobre os problemas ligados ao
homem, um pouco de Heidegger, ao debruçar-se sobre as questões de ordem
ontológicas ou fenomenológicas, um pouco de Rousseau, quando se pensa nas questões
ligadas à educação...
Assim, recorrendo a uma metáfora mítica,
à parte da racionalidade apolínea – ensejadora da escrita, enquanto
manifestação racional, artística e autoral, ligada à uma identidade específica
–, a mesma escrita permite o esquartejamento do autor por todos aqueles que de
sua obra se apropriam, como os presentes aos bacanais dionisíacos que consumiam
as carnes de um touro ou bode abatido.
O preto e branco numa superfície real ou
virtual revelam-se como a carne do autor, devorada por aqueles que são chamados
a participar de um ritual que assume uma aparência trágica, para se utilizar de
expressão de Nietzsche[19],
especialmente nas rede sociais, onde o autor entrega-se à antropofagia por
parte de seus leitores. Se, por um lado, a escrita implica, inclusive, nas
redes sociais, a “morte” do autor, por outro, possibilita o seu renascimento
dionisíaco, estimulado por escrever mais e ser novamente devorado, como um
touro nos bacanais promovidos pelo deus helênico Dionísio, ressuscitando-o, a
cada vez, em forma de brincadeira juvenil[20].
Ao autor pode-se atribuir, portanto, a
sua vertente trágica: do principium
individuationis ao uno primordial,
da autoria individual à apropriação coletiva de sua escrita[21].
Conclusão
Barthes lança luz sobre a ruptura da
visão de autoria fundada na crença divina da Renascença e do individualismo
capitalista da Modernidade, como produto da concepção da figura de um Autor-Deus, cuja mente haveria
concentrar as preocupações da crítica literária até então.
O que Barthes propõe é a busca de um
modo de percepção em que os textos não sejam tomados como meras criações
individuais mas, ao contrário, como obras coletivas, com base na relação que se
estabelece entre o que foi escrito e o leitor.
Isso ajuda a perceber como a autoria não
é uma “dádiva”. No máximo, uma possibilidade de trazer à mente várias ideias,
partes de obras lidas, escritas por um sem número de pessoas, realizando uma
espécie de bricolage. Quem escreve
algo o faz a partir de um vasto arcabouço adquirido mediante a leitura de
outras obras, previamente lida.
Tal fato também contribui para uma
reflexão sobre a apropriação por parte dos leitores daquilo que alguém escreve
e, inclusive, neste momento, compreender, em tempos de redes sociais virtuais,
a dinâmica do compartilhamento do que deixamos à disposição das pessoas.
Trata-se de, como assinala Barthes,
pensar o autor a partir da relação que os leitores mantém com seus escritos.
“Break oh through (to the other side)” – “atravesse para o outro lado – , já
dizia Jim Morisson, à frente da banda The
Doors. Esta seria uma proposta.
Tem-se, pois, como concebeu Barthes, a
morte do autor atrelada ao nascimento do leitor.
Assim, no meu caso, entendo
perfeitamente a minha morte, a partir daquilo que eu mesmo escrevo nas redes
sociais. Morro inúmeras vezes, por certo, a cada vez que escrevo. Tal morte se
consolida com a apropriação daquilo que escrevo por meus leitores.
E sei que faço o mesmo em relação a
vários autores, cotidianamente.
Mas, de igual sorte, acredito que hei de
renascer para escrever mais e mais, enquanto você lê e, pensando, torna-se
coautor daquilo que comecei a “costurar”, na medida em que já pensa sobre isso
tudo e, de acordo com seu gosto, também já pensa em retirar ou acrescentar algo.
Referência
BARTHES,
Roland. A morte do autor. In: ______.
Rumor da língua. [Trad.] Mario Laranjeira. São Paulo: WMF Martins Fontes: 2004.
BRANDÃO,
Junito de Souza. Mitologia grega.
Volume II. Petrópolis: Vozes, 1987.
DESCARTES,
René. Meditações metafísicas. [Trad.]
Maria Ermantina Galvão. 2. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
FOUCAULT,
Michel. A ordem do discurso: aula
inaugural no Còllege de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970.
[Trad.] Laura Fraga de Almeida Sampaio. 21. Ed. São Paulo: Edições Loyola,
2011.
LÈVY,
Pierre. Cibercultura. [Trad.] Carlos
Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 1999.
LLOSA,
Mario Vargas. A civilização do
espetáculo: uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura. [Trad.]
Ivone Benedetti. Rio de Janeiro: Objetiva, 2013.
MERLEAU-PONTY,
Maurice. Signos. [Trad.] Maria
Ermantina Galvão Gomes Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
NIETZSCHE,
Friedrich. Assim falou Zaratustra.
[Trad.] Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
______.
O nascimento da tragédia, ou helenismo e
pessimismo. [Trad.] J. Guinsburg. . São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
ROUSSEAU.
Jean-Jacques. Emílio ou da educação. [Trad.]
Sergio Millet. 2. Ed. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1973.
RUTA,
Christina. Cadernos autobiográficos
reavivam debate sobre Heidegger e o nazismo: lançamento gradual de escritos
inéditos de 1930 a 1970 – os “Cadernos negros” – lança luz sobre papel do
antissemitismo no pensamento do filósofo. Publicação de correspondência privada
anuncia novo round no debate. Deutsche Welle, Notícias, Cultura e Estilo,
16/03/2014. Disponível em http://www.dw.de/cadernos-autobiogr%C3%A1ficos-reavivam-debate-sobre-heidegger-e-o-nazismo/a-17488624.
Acesso em 28/10/2014.
STEVENSON,
Robert Louis. O médico e o monstro: Dr.
Jerkyll Mr. Hyde. [Trad.] José Paulo Golob, Maria Angela Aguiar e Roberta
Sartori. São Paulo: L&PM, 2002.
[1] Originalmente, publicado
com o título Le Bruissement de la langue.
[2] Neste trabalho, utiliza-se
como fonte a edição publicada no ano de 2004, pela WMF Martins Fontes.
[3] BARTHES, 2004, p. 66.
[4] BARTHES, ibidem, p. 68.
[5] IDEM, ibid., p. 70.
[6] Apoio-me na definição de
ciberespaço de Lévy (1999, p. 17), para quem este “é o novo meio de comunicação
que surge da interconexão mundial de computadores”.
[7] FOUCAULT, 2011.
[8] BARTHES, op. cit., p. 64.
[9] IDEM.
[10] MERLEAU-PONTY, 1991.
[11] Refiro-me, por exemplo, à
obra Assim falou Zaratustra.
[12] NIETZSCHE, 2011.
[13] STEVENSON, 2002.
[14] RUTA, 2014.
[15] STEINER apud LLOSA, 2013,
p. 18.
[16] E não há como negar que a
escrita é uma forma de linguagem. Cf. MERLEAU-PONTY, 1991.
[17] DESCARTES, 2005.
[18] ROUSSEAU, 1973.
[19] NIETZSCHE, 1992.
[20] BRANDÃO, 1987.
[21] Não confundir com a
criação coletiva de uma obra ou com obras sem autoria, como se verifica nas
tradições orais, nos textos sagrados (Bíblia e Torá, por exemplo) ou mesmo em
alguns escritos gregos da Antiguidade. N.A.


.jpg)